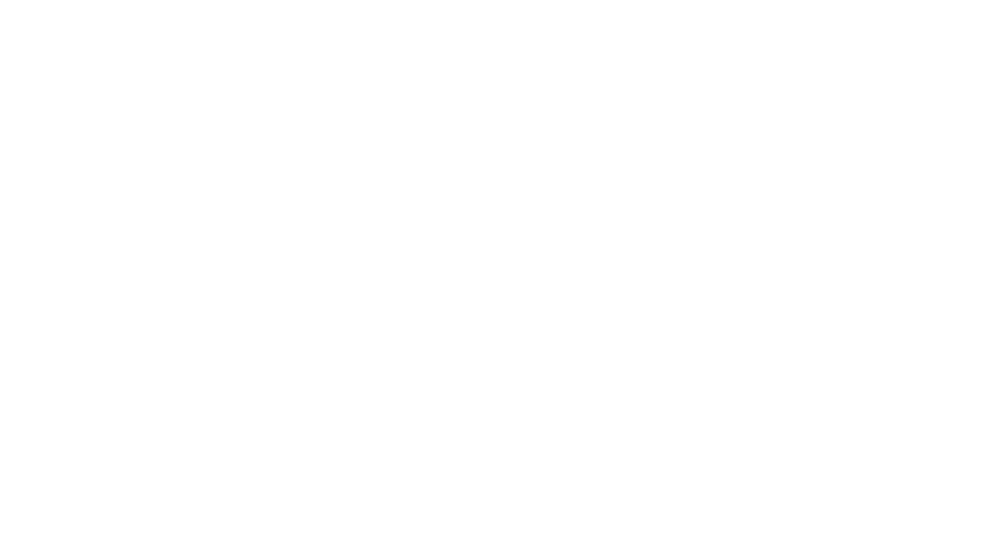Ancestralidade
As mulheres indígenas ouvidas por Um Só Planeta negam que a violência de gênero dentro de suas comunidades faça parte de sua cultura originária. Segundo elas, o abuso é uma herança colonial. “A violência não é natural nem algo do povo indígena ou ancestral. Sua origem está na própria raiz da colonização, dessa ideia absurda de que alguém é superior a outro e, por isso, tem o poder sobre determinado corpo, território e espírito”, diz a socióloga indígena especialista em gênero e raça Avelin Buniacá Kambiwá, da aldeia Baixa da Alexandra, no alto sertão de Pernambuco, mas que atualmente mora em Belo Horizonte (MG).
Jera relata, contudo, que, antes da chegada da energia elétrica e da TV à aldeia, os homens indígenas eram mais parceiros, cozinhando, cuidando dos filhos e da casa, principalmente durante o período menstrual das parceiras. “O futuro que quero para as minhas filhas, é que elas tenham pelo menos a metade das coisas boas que eu tive antes da chegada da energia elétrica na aldeia. E que tenham um mundo bem mais cheio de lideranças mulheres”, arremata.
:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_7d5b9b5029304d27b7ef8a7f28b4d70f/internal_photos/bs/2022/O/V/qoCTDoRnAbgraEDKbcZA/jera-credito-arquivo-pessoal.jpg)
Aliás, o período menstrual ilustra bem como a cultura guarani via o feminino como sagrado antigamente, visão que se transformou. “Uma vertente antiga dizia que quando a mulher se aproxima do sangramento, está perto da divindade, cabendo aos homens as atividades da casa”, explica Poty Poran, liderança Guarani Mbya. Segundo ela, depois, surgiu uma visão de que a mulher estaria contaminada e, por isso, não deveria realizar as tarefas durante o período. “Meu irmão não gosta de comer comida de mulheres menstruadas porque diz que dá dor de barriga”, diz Poran, que vive na Tekoá Pya’u, na Terra Indígena Jaraguá, onde trabalhou na edução por 15 anos e atualmente é gerente da UBS local.
A mulher tem um papel essencial na manutenção da cultura ancestral, defende ela. “Se não fosse minha avó, que manteve as nossas histórias sagradas e a nossa tradição de religião, nós não teríamos mais nada disso”, relata. Poran descende de mulheres fortes, como a avó, cacique Kerexu Jandira, e se orgulha de ver a filha, Jera Auria, de 13 anos, trilhando o mesmo caminho ao liderar, ao lado da prima Tayuane, de 14 anos, um grupo de jovens da aldeia.
:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_7d5b9b5029304d27b7ef8a7f28b4d70f/internal_photos/bs/2022/S/2/vk5KteSiAvLBYMzlpk8A/poran-credito-ivone-cavalcante.jpg)
Agressões à Terra
Para desconstruir a violência contra a mulher é preciso ainda resgatar valores tradicionais de conexão com a natureza, pontua Avelin. “A origem dessa violência machista patriarcal contra as mulheres indígenas é a mesma raiz da violência que afeta a nossa Mãe Terra”, afirma. “Mãe não se vende, não se arrenda e não se aluga. A sacralidade da mulher indígena é recuperada com a sacralidade da Mãe Terra.”
:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_7d5b9b5029304d27b7ef8a7f28b4d70f/internal_photos/bs/2022/B/4/XDBjnBScuWxLg1mWBa5Q/shirley-credito-julian-tse2.jpg)
A violação de uma mulher é a do próprio Planeta “porque o nosso corpo é terra e o que corre dentro de nós é um grande rio”, compara a jornalista indígena Shirley Djukurnã Krenak, pertence ao povo Krenak do leste do estado de Minas Gerais. “A terra também sofre porque, dentro do processo da espiritualidade, as mulheres são árvores que se enraízam, crescem e dão frutos”. Para ela, é missão das mulheres retomar o equilíbrio de dialogar e agir com mais respeito a todos os seres.
As quilombolas completam o coro. “Quando vai embora, fugindo da violência, a mulher leva consigo a base, o nosso saber, o nosso fazer, a raiz que mantém as comunidades e o território vivos”, afirma a pedagoga Maria Helena Serafim Rodrigues, quilombola do território Kalunga, em Cavalcante (GO). “O território precisa desse calor, desse movimento para sobreviver. Esse movimento é a geração da vida e quem é mais capaz de fazer a geração de vida do que uma mulher, do que uma mãe?”
:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_7d5b9b5029304d27b7ef8a7f28b4d70f/internal_photos/bs/2022/f/a/ZI4S4QSpebH8ZFmVt4pg/maria-helena-kalunga-credito-tuya-kalunga.jpg)
Abrindo caminhos
A violência contra a mulher continua sendo um tabu nas comunidades indígenas e quilombolas. Avelin diz que o medo de que os homens indígenas, já historicamente perseguidos, sofressem mais uma ameaça está entre as razões para isso. Nos territórios quilombolas, o assunto também é evitado. Para abrir caminhos a essas discussões nos territórios, mulheres têm reclamado seu papel de liderança e gestado inúmeros projetos.
É o caso de oficinas de artesanato, como macramê, crochê e pintura, voltados para as mulheres em comunidades Kalunga, e acompanhadas de rodas de conversa sobre a importância do amor próprio. As atividades, que aconteceram entre 2018 e 2019, visavam criar renda, aumentando a autonomia e autoestima femininas. O exemplo é dado por Dalila Reis Martins, do quilombo Kalunga. “Quando chega um projeto desse na comunidade, uma mulher calada e em sofrimento começa a refletir sobre a vida, a produzir e, num instante, isso dissemina. É importante”, afirma Dalila, que palestrava nesses eventos.
A atividade, interrompida durante a pandemia, ainda não foi retomada. Dalila diz estar em contato com associações locais, a Conaq (Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos), a Fundação Palmares e outras entidades para dar continuidade ao trabalho. Segundo ela, o modelo poderia ser replicado em outras comunidades quilombolas e indígenas.
:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_7d5b9b5029304d27b7ef8a7f28b4d70f/internal_photos/bs/2022/b/I/i8xHr0QbOZv2m00gnyIQ/dalila-credito-arquivo-pessoal.jpeg)
Além do retorno das rodas de conversa, Dalila defende a criação de políticas públicas pensadas para a mulher quilombola (assistência psicológica, por exemplo), a disseminação das leis existentes, como a Maria da Penha, em uma linguagem acessível nas comunidades, e a promoção de assembleias com representantes do Ministério Público e de delegacias especializadas dentro dos territórios. “Esses encontros deveriam acontecer pelo menos cinco vezes por ano para que essas mulheres pensem, repensem e se enxerguem enquanto mulher e amor próprio. Não como objeto ou como empregada gratuita”, opina Dalila, que é artesã, agroextrativista, cantora e compositora.
Ocupando espaços
Entre as indígenas, coletivos de mulheres, marchas e formações políticas voltadas para elas são maneiras de resistir, fazendo ecoar suas vozes e valer seus direitos e desejos. “É um longo processo de desconstrução. Não é toda mulher que tem a voz de Telma Taurepang e de Sonia Guajajara. Muitas delas são silenciadas”, diz Telma Taurepang, pré-candidata à deputada federal por Roraima. Coordenadora da União das Mulheres Indígenas da Amazônia Brasileira (UMIAB), ela defende uma candidatura em que legisle para indígenas e não-indígenas, priorizando a proteção ambiental.
:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_7d5b9b5029304d27b7ef8a7f28b4d70f/internal_photos/bs/2022/P/I/9TmEjbT0iQgXAM84UzQw/telma-credito-arquivo-pessoal.jpg)
“Todas as vezes que a família ou a própria liderança esconde ou camufla uma violência sofrida pela mulher, ela está criando feridas para si mesma e para a própria comunidade”, diz a professora Avelin, citando experiências indígenas em que o assunto é discutido com mais abertura e clareza, como a Kuñangue Aty Guasu, assembleia promovida por mulheres Guarani Kaiowá no Mato Grosso do Sul. Outra luta atual é contra a transfobia, menciona a socióloga, citando a primeira cacique transexual, Majur Traytowu, do povo Boe Bororo.
Se elas acreditam que essas discussões podem enfraquecer suas comunidades? Muito pelo contrário. Para as mulheres indígenas e quilombolas, a união é que mantém os povos fortes. E isso só pode acontecer onde as mulheres são acolhidas. “Quando trazemos a discussão do machismo e da violência contra a mulher indígena dentro dos territórios, não estamos querendo destruí-los, mas dinamizar a nossa cultura que já é maravilhosa e que já vem resistindo e se reinventando há mais de quinhentos anos”, argumenta Avelin.
Abaixo, um poema escrito por Poty Poran inspirado no tema desta reportagem:
Kunha Nhanhembarete
A terra é a mãe indígena.
Essa terra é a mãe preta.
Nossa mãe de pé no chão
Nossa mãe, bela guerreira.
Nossa mãe é puro coração.
Nos ensina a andar ligeira
Na mata acompanhada
Ou na cidade da solidão.
Kunha Nhanhembarete
São elas as mães indígenas
São elas as mães quilombolas
Que preservam a nossa nossa história.
Nossa identidade, nossa alma.
Que nos marcam com vitória
A nossa bela trajetória.
A preservação da vida,
Da identidade e do bem viver
Está na perseverança
Da força feminina do ser.
Kunha Nhanhembarete

/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_7d5b9b5029304d27b7ef8a7f28b4d70f/internal_photos/bs/2022/r/G/8rkj7ySaONL7bpAKHAlQ/avelin-credito-cadu-passos2.jpg)
:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_7d5b9b5029304d27b7ef8a7f28b4d70f/internal_photos/bs/2022/0/9/ZOWULKRw6orpeLpYFf8w/avelin-credito-cadu-passos3.jpg)