
14/10/2020
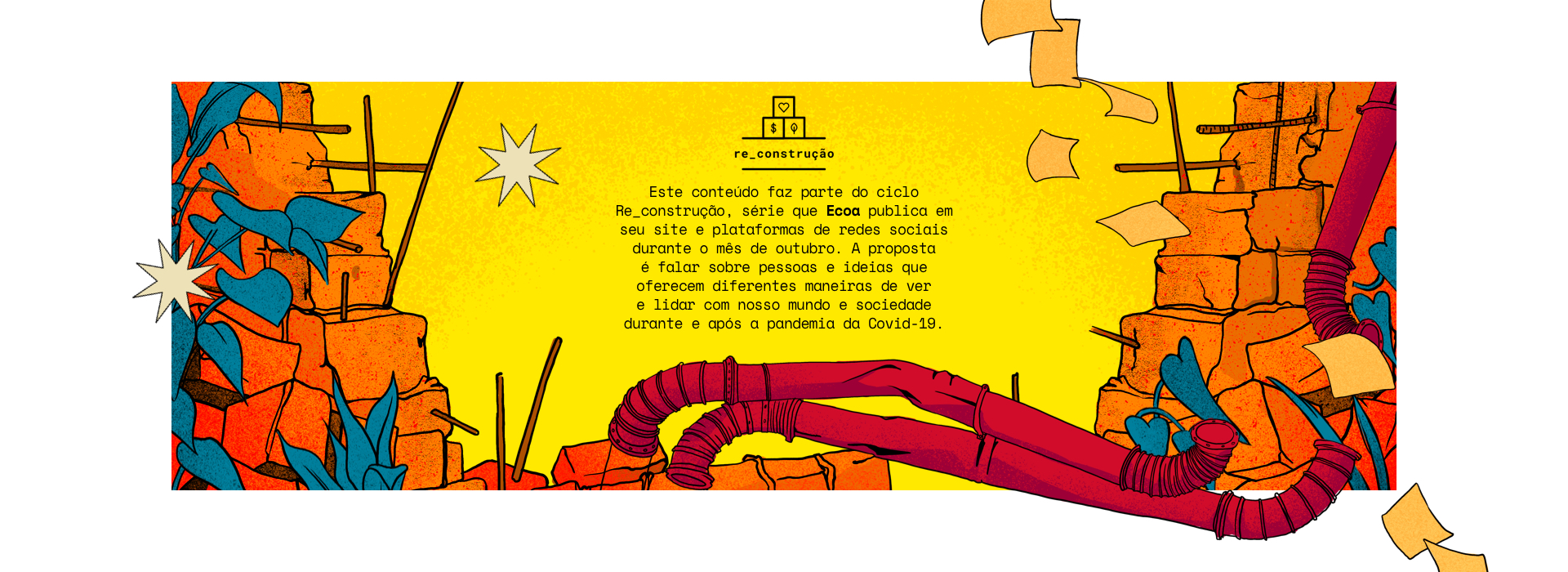
Quem são os selvagens: os que derrubam e queimam as florestas ou os que tratam as árvores e animais da mata como seus iguais? Quem são os primitivos: os que importam e acreditam na última teoria da moda ou os que observam seu entorno e estudam seu passado?
As crises ambientais e sociais da atualidade estão cada vez mais gerando interesse no Brasil para a produção intelectual feita a partir do olhar indígena e negro, como possibilidade de construção de um saber filosófico daqui e como contraponto à visão utilitarista, à lógica individual e à razão cartesiana da dita vida moderna
Como diria o xamã yanomami Davi Kopenawa, autor de “A Queda do Céu”, os brasileiros urbanos têm ideias esfumaçadas, porque só ouvem máquinas e motores em suas aldeias. “Os brancos acham que deveríamos imitá-los em tudo. Só poderemos nos tornar brancos no dia em que eles mesmos se transformarem em yanomamis”, escreve no livro que mostra a cosmovisão desse povo que habita a fronteira montanhosa entre Brasil e Venezuela.
Para ele, os brancos são “o povo da mercadoria”, e os garimpeiros, “os comedores de terra” – ambos prisioneiros de suas cadeias produtivas. Kopenawa encabeça uma lista de pensadores indígenas que estão analisando o mundo atual, como Ailton Krenak, Daniel Munduruku, Eliane Potiguara, entre outros.
Da mesma forma, uma filosofia negra feita na África e na América vem abrindo espaço nas livrarias e universidades – cinco delas no Brasil têm cursos regulares sobre o assunto. “Não queremos um gueto discursivo, um puxadinho no edifício da filosofia. É uma disputa pela concepção do fazer filosófico”, afirma Eduardo de Oliveira, professor da UFBA (Universidade Federal da Bahia) e autor dos livros “Cosmovisão Africana no Brasil” e “Filosofia da Ancestralidade”.
Para Oliveira, não há filósofos no Brasil. Há sim “comentadores de filosofia”. “Enquanto o pensamento não incorporar os saberes dos índios e dos negros, não vamos ter um modo de ver e pensar de uma civilização brasileira. Elas não podem ser rotuladas como filosofias menores, como alternativas. Tratar como algo exótico ou folclórico é uma forma de racismo. Elas têm sim potência para resolver os desafios do agora a partir do nosso território e devem entrar nos currículos de forma transversal em todas as escolas.”
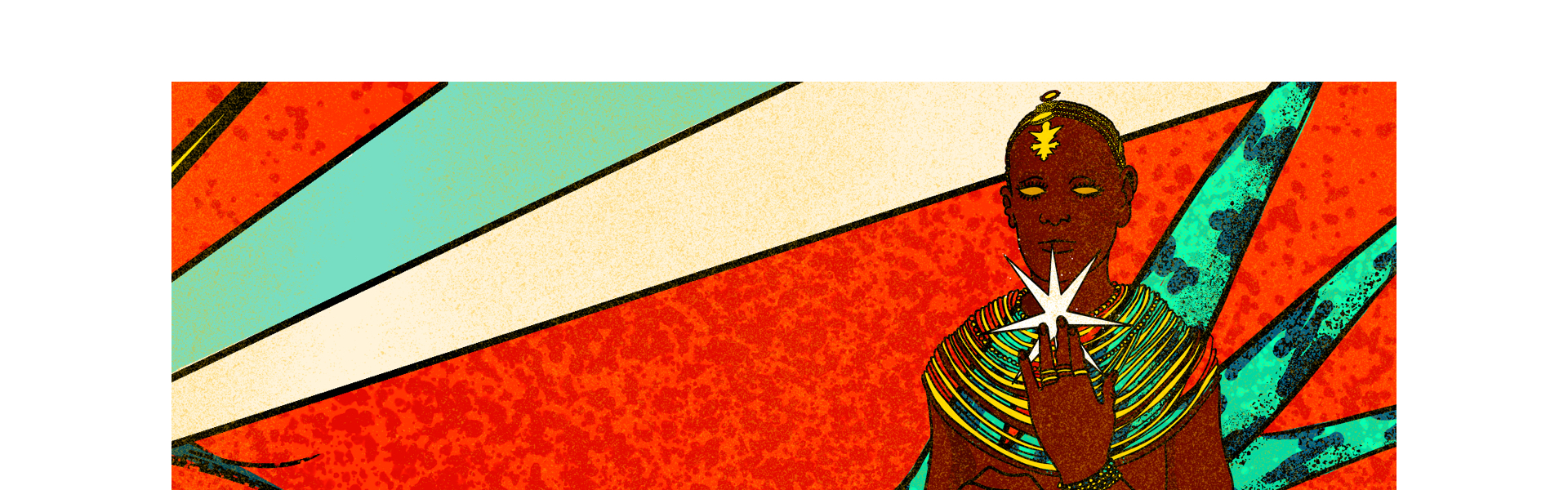
“Essa entrevista é algo espiritual. E o texto que você vai escrever depois dela pode ser sagrado.” A conversa por telefone com Zezé Olukemi tem um lado transcendental, outro bem concreto.
Ele une tecnologia, arte e cultura iorubá nos grafites, nos escritos e nos games que desenvolve em Salvador, Bahia. Há 13 anos entrou no candomblé. A busca das raízes africanas por meio dos orixás e de seus ensinamentos influenciou em seu trabalho artístico, e ele abraçou a cosmopercepção e a ancestralidade africana.
“A cultura ocidental se fixa muito na identidade como algo imutável. A ancestralidade é tudo menos estática. Ela leva em conta o passado, mas sua força está no presente. Os iorubás nos contam que temos três destinos: o que você escolhe, o dado pelos ancestrais e outro negociável”, aponta Olukemi. A multiplicidade de identidades dentro de nosso cérebro, apontada recentemente pela neurociência, é um conhecimento antigo das religiões de matriz africana.
A tarefa da filosofia é produzir mundos. Ela já reconheceu o mundo como encantado e já o desencantou, com sua razão ocidental pragmática e calculista. A ancestralidade é uma filosofia que produz mundos para muito além de produzir conceitos. E a ética é a melhor maneira de encantamento.
Historicamente, a filosofia no Brasil esteve mais para uma teologia, que circulava em catedrais e abadias, afinal, seus praticantes mais destacados eram jesuítas. Com a criação da Faculdade de Filosofia da USP (Universidade de São Paulo), importou-se professores de Paris e se formou, ali, o que se chamou de “um departamento francês de além-mar”. Agora, o que se quer é que o pensamento nacional passeie também entre os batuques dos terreiros e as pajelanças das tribos para que o brasileiro dê sua contribuição para entender o mundo.
Um exemplo disso é o perspectivismo ameríndio, conceito elaborado pelo antropólogo Eduardo Viveiros de Castro que aponta que os nativos das Américas têm uma compreensão totalmente inversa dos europeus em relação às noções de natureza e cultura — tudo é uma questão de perspectiva. Essa teoria migrou para a filosofia e conseguiu transbordar a eterna luta entre universalismo e relativismo na academia.
Nas aldeias, nos quilombos, assim como no mundo todo, a realidade escapa aos automatismos intelectuais, à busca por estruturas e às redes binárias da razão: humanidade-natureza, bem-mal, sagrado-profano e assim vai. A ideia é descolonizar os olhos e mentes, transpor fronteiras, achar encruzilhadas desses conhecimentos dos povos brasileiros e propor um diálogo com a realidade atual. No lugar da lógica racional de separar tudo em parte para analisar, a proposta é juntar para conhecer. “Pela visão africana, tudo é animado, interligado e pleno de vida. É mais propositiva que analítica. É singular e reclama seu direito de dialogar com o planeta inteiro”, sinteza Oliveira.

Kopenawa diz que o homem branco vive no esquecimento, por isso mesmo usa “peles de papel” para escrever o que esqueceu (por exemplo, que um dia habitou a natureza) ou vai esquecer (como as promessas sempre descumpridas). Isso está escrito no livro “A Queda do Céu”, fruto de três décadas de conversas do líder yanomami com o antropólogo francês Bruce Albert, um misto de relato biográfico e descrição da cosmovisão da etnia amazônica.
Cada vez mais essas sabedorias ganham versões impressas. Há até uma área de conhecimento chamada de filosofia da sagacidade, que abarca esses diálogos de sábios da cultura popular com acadêmicos. O pensador Amadou Hampâté Bâ, nascido no Mali, definiu assim a relação: “A escrita não é o saber, a escrita é a fotografia do saber. Saber é algo que está em nós”
Na cultura da África e da América, a palavra tem corpo. “Você tem que ter cuidado com o que você fala, invocamos energia a partir da nossa voz. A escrita não substitui o som, com sua entonação e sua força, assim como a informação não substitui o conhecimento”, resume Olukemi.
A oralidade exige memória, aprendizado e confiança. Graças à cultura oral, as culturas africanas conseguiram se reconstituir e ressignificar nas Américas, apesar da jornada cheia de violência e proibição que a escravidão produziu. Aqui, elas se misturaram e se inventaram.
No Brasil, primeiro chegaram os bantos, trazidos de Angola e do Congo desde o século 16, misturando suas crenças e palavras com as dos índios e brancos. Os iorubás, principalmente da Nigéria, vieram a partir do final do século 18 e com eles a maioria dos orixás do candomblé.
“A resposta criativa dos africanos traduziu-se aqui numa multiplicidade de invenções sociais, como as religiões, a capoeira, as escolas de samba, que são tecnologias de inclusão. A africanidade proporcionou uma filosofia mais próxima da estética, uma ciência da sensibilidade, respondendo com um culto à liberdade e à beleza no Brasil, no lugar de responder com ódio”, afirma Oliveira.

A arte de viver é, sem dúvida, a parte da filosofia mais popular desde a Grécia Antiga. E os indígenas apresentam sua versão. É o chamado “bem viver”, conceito presente em povos como os aimarás e os guaranis de equilíbrio com a comunidade e a natureza, em contraste com a ideia de “viver bem” dos seres urbanos atrás das compensações oferecidas pelo consumo de confortos e luxos.
A geógrafa e ativista Márcia Kambeba, nascida em uma aldeia à beira do rio Solimões, exemplifica essa ética pelo processo de caça. Antes de entrar na mata, os caçadores pedem permissão aos espíritos. Quem flechou a presa não pode comer sua carne e deve passar cinco dias de depuração, para ser perdoado por “matar um irmão” e para não perder sua habilidade de caçador. “Essa regra mostra como o sentido comunitário e ambiental vem em primeiro lugar. E ajuda a regular as desigualdades e controlar a ganância, além de promover harmonia e solidariedade”, explica a líder indígena.
Kambeba conta que as crianças aprendem pela observação da natureza. “Com dois anos, eu fui deixada na mata para ouvir os pássaros, os ventos e as árvores. Meus pais ficaram à distância. A floresta é nossa professora principal. Aprendemos a andar no passo da paca, pisando miudinho para não fazer barulho. Existe também a pedagogia dos rios. Eles nos ensinam sobre a força de suas correntezas, a profundidade de seus leitos, os diversos tipos de água. A gente se percebe natureza, e os animais e as plantas são nossa família. O bem viver é salvar o planeta do desastre.”
No mundo amazônico, há mais pessoas no céu e na terra do que sonham nossas antropologias
O pensamento indígena vai migrando da antropologia para filosofia, pela voz dos próprios nativos ou por meio de acadêmicos que souberam “atravessar e traduzir” o conhecimento preservado nas selvas, como disse Krenak.
O mais destacado deles é o carioca Viveiros de Castro. Entre seus achados teóricos, ele apresentou a lógica da “predação” dos índios, ou seja, a relação entre caça e caçador, contrastando com a ênfase das sociedades industriais na “produção” de objetos.
Outro estalo intelectual foi mostrar como os indígenas pensam o mundo de forma contrária ao branco, principalmente em relação aos conceitos de “natureza” e de “cultura”. Na tradição ocidental, o universal é a natureza, como realidade dada para todas as pessoas. O que é construído pelo homem é a cultura, que muda conforme a sociedade.
Já para as cosmologias dos povos originários do Alasca até a Terra do Fogo, o dado universal é a cultura, uma única cultura que é sempre a mesma para todo sujeito, dependendo de sua natureza: se ele é homem, animal ou divindade. Ser gente, para humanos, não-humanos e sobre-humanos, é viver segundo as regras de seu grupo. Então, a cultura é geral, e o que muda é a natureza de quem pensa o mundo — por exemplo, para uma anta, o homem parece uma onça porque é seu predador, assim como para uma onça, o homem é um macaco, porque é sua presa.
O chamado perspectivismo ameríndio dá um nó nas categorias analíticas engessadas ao binarismo, acrescenta complexidade e nos faz sair dos automatismos.
Kambeba vai na mesma lógica. “Não há separação entre homem e natureza. É um cuidado mútuo. Somos um mesmo corpo. Foi ela que nos deu o cérebro, que é o órgão que possibilita pensar, mudar e progredir. A natureza plantou as transformações na nossa cabeça.”
Na cosmovisão iorubá, como em várias outras de matriz africana, o homem também está no mesmo patamar de importância que animais, vegetais e minerais. Bem diferente da ideia cristã, com suas fortes hierarquias celestiais e terrenas — na Bíblia está escrito no Gênesis: “Disse também Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança: domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se arrasta sobre a terra.”
Outro contraste se vê na filosofia banto, na qual o princípio central é “a força”, assim como “o ser” é a questão principal para a tradição filosófica universitária. “Para além de valorizar e preservar, nós conhecemos o fundamento energético de cada elemento da natureza. A realidade é complexa e cheia de significados, basta enxergar”, define Olukemi.
O mundo visível e o invisível habitam em um mesmo plano, e as divindades são tão imperfeitas como os homens, mas se destacam por suas virtudes e servem como inspiração para os seres humanos. Nas crenças africanas, não existe o mal absoluto e sobrenatural como na visão cristã – o mal é relativo e circunstancial.

Outro ensinamento indígena é sobre o tempo. E não é preciso ser um velho sábio para perceber. Richard Werá tem 17 anos. Nasceu e cresceu no território em torno do pico do Jaraguá, colado na periferia da zona norte de São Paulo. “Na aldeia, o tempo passa de outra forma, e as decisões são mais democráticas. Os brancos precisam de um presidente que decida tudo por eles com pressa, na correria. Aqui a gente ouve todo mundo, vê o que é melhor para a comunidade, toma o tempo que precisar para decidir”, compara.
Richard é fotógrafo e documenta o dia a dia e as lutas para manter a área para os guaranis. Quando ele é o retratado, as imagens mostram um garoto que mistura a cultura branca (agasalho com capuz, camiseta de banda) com elementos indígenas (pulseira e colar guaranis).
A proximidade com a cidade ajuda a compreender as diferenças. “A gente leva uma vida muito coletiva, divide tudo, cumprimenta, conversa. Não é como os brancos, que não olham pro lado, não querem saber como as outras pessoas estão.”
Ou você ouve a voz de todos os outros seres que habitam o planeta, ou faz guerra contra a vida. Esse é um chamado para pensar de outro jeito.
Dentro do pensamento africano, o ubuntu ganhou muita popularidade a partir da figura do líder sul-africano Nelson Mandela (1918-2013). Virou até técnica de gestão corporativa para unir equipes de negócios. Mas o lema banto “eu sou, porque nós somos” surgiu mesmo como uma forma de diagnosticar e resolver conflitos estruturais. E está na lista de formas de congregar a comunidade na África.
“O cuidar das crianças é comunitário. Não tem gênero. É a mãe, o pai, toda a família, o entorno, uma rede de auxílio montada à parte do Estado. Isso é algo muito africano, mas é só ir em um bairro pobre no Brasil que você vê isso também”, lembra Olukemi.
As lições extraídas das cosmovisões de indígenas e afrodescendentes apontam para um outro mundo possível, que existe nas frestas do atual sistema e pode servir de inspiração para a grande maioria que sobrevive sob a restrita cosmovisão que a ração diária de noticiários, redes sociais e obrigações financeiras nos proporciona.
Modos de vida e pensamentos que eram apontados como ultrapassados, na verdade, se revelam agora algo desejável em um mundo a caminho do desastre climático. E eles parecem já habitar um futuro sonhado, e não no passado atrasado, como se acreditava antes. Eles não são o que já fomos: eles são quem queremos ser.

As histórias e pessoas apresentadas todos os dias a você por Ecoa surgem em um processo que não se limita à pratica jornalística tradicional. Além de encontros com especialistas de áreas fundamentais para a compreensão do nosso tempo, repórteres e editores têm uma troca diária de inspiração com um grupo de profissionais muito especial, todos com atuação de impacto no campo social, e que formam a nossa Curadoria. Esta reportagem, por exemplo, nasceu de uma conexão proposta por Ítala Herta, curadora do ciclo Re_construção.

Ecoa propõe durante o mês de outubro um ciclo temático de reportagens e entrevistas sobre Re_construção. A proposta é falar sobre pessoas e ideias que oferecem diferentes maneiras de ver e lidar com nosso mundo e sociedade durante e após a pandemia.
Ao longo de três semanas nos aprofundaremos em debates que vão da necessidade de se falar (e agir) sobre as populações mais vulnerabilizadas, a luta antirracista, os saberes ancestrais e seus ensinamentos e, é claro, o mundo dos negócios e o futuro do trabalho.
Não perca nenhum conteúdo do ciclo temático!
Direção de arte: René Cardillo; Edição geral: Fernanda Schimidt; Ilustrações: Amanda Miranda; Motion: Leonardo Rodrigues; Reportagem: Rodrigo Bertolotto;