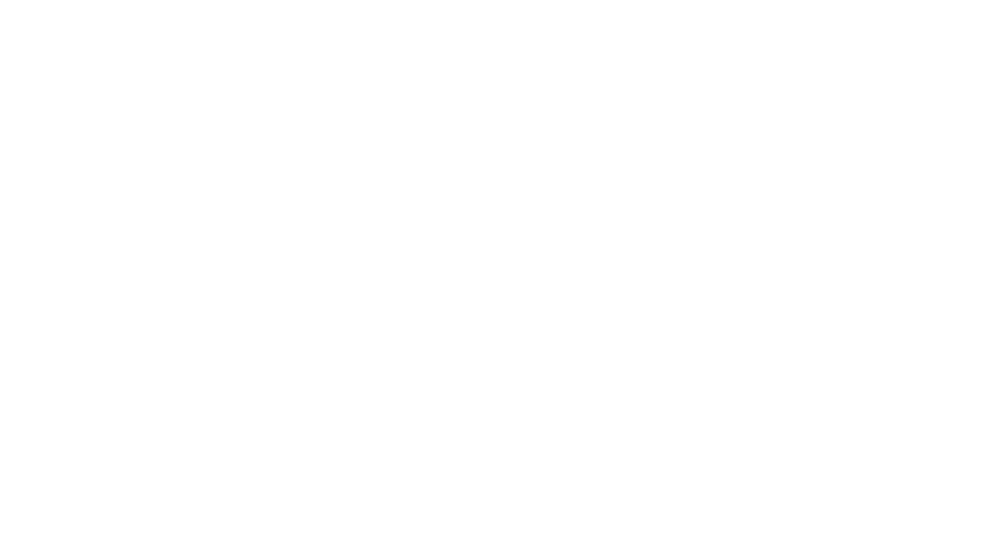Célia Xakriabá é pioneira. Fez história ao ser a primeira integrante de seu povo a concluir um mestrado e, novamente, ao ser a primeira indígena a ocupar um cargo na Secretaria de Educação de Minas Gerais. Também é a única indígena a cursar doutorado em antropologia na UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais). Aos 30 anos, é professora, ativista e uma das mulheres à frente da coordenação da Articulação dos Povos Indígenas (Apib), responsável pela organização do fórum e da 1ª Marcha das Mulheres Indígenas no Brasil, iniciados na semana passada.
“Nossa expectativa é de que as mulheres busquem muito mais do que uma única resposta: valorizem suas narrativas, suas histórias, suas memórias, para que isso sirva de alimento”, afirma em entrevista ao HuffPost Brasil. Mais de duas mil indígenas são esperadas para a marcha delas nesta terça-feira (13), quando se juntam à Marcha das Margaridas (leia mais abaixo).
Com o tema “Território: nosso corpo, nosso espírito”, a 1ª Marcha das Mulheres Indígenas pretende trazer à tona discussões como direito ao território, políticas governamentais, violência de gênero, machismo e homofobia ― além de questões de saúde reprodutiva, educação, segurança e sustentabilidade.
Questões como essas foram consideradas relevantes para o movimento, segundo o projeto Vozes das Mulheres Indígenas, implementado pela ONU Mulheres em cooperação com a embaixada da Noruega em 2016. O projeto reuniu informações sobre comunidades indígenas de todo o Brasil e constituiu o que seria uma pauta nacional comum das mulheres indígenas brasileiras.
Cerca de 448 mil mulheres indígenas vivem no Brasil, entre 305 povos espalhados pelo território nacional, segundo dados do IBGE de 2010. Para garantir a presença de mulheres de cinco regiões do Brasil, a organização da marcha criou uma vaquinha virtual com a intenção de arrecadar fundos para a infraestrutura.
Mesmo com esse número significativo de mulheres indígenas espalhadas pelas cinco regiões do Brasil, para Xakriabá, “se a mulher urbana sofre violência de gênero”, “ser mulher e indígena já é dizer que a violência é duas vezes”.
Segundo o Relatório Violência Contra os Povos Indígenas no Brasil – Dados de 2017, do Conselho Indigenista Missionário (Cimi), os tipos de violência cometidos contra povos indígenas e seus territórios saltaram de 14 para 19.
Entre eles, estão o número de suicídios (128 casos), assassinatos (110 casos), mortalidade na infância (702 casos) e as violações relacionadas ao direito à terra originária e à proteção delas ― que é protagonizada por mulheres.
Além dos dados, ações recentes do governo federal têm colocado essa questão em pauta. Recentemente, o STF (Supremo Tribunal Federal) manteve a suspensão da medida provisória que transferiu a demarcação de terras indígenas para o Ministério da Agricultura. Assim, voltou a ser atribuição da Funai (Fundação Nacional do Índio), ligada ao Ministério da Justiça.
As denúncias de invasão de territórios indígenas têm sido recorrentes desde o início do ano. Em julho, o conselho da etnia Waiãpi denunciou a invasão da Terra Indígena Waiãpi, no oeste do Amapá, e o assassinato do cacique Emyra Waiãpi no local. Agentes da Polícia Federal e da Secretaria de Segurança Pública não encontraram a presença de garimpeiros e invasores na região.
“Isso serve, na verdade, para entender o quanto e como a sociedade é violenta e ainda desconhece a presença indígena”, afirma Xacriabá, que é formada em ciências sociais também pela UFMG.
Leia a entrevista completa:
HuffPost Brasil: Você está entre uma das organizadoras tanto do Fórum, quanto da 1ª Marcha das Mulheres Indígenas no Brasil. Qual é a expectativa para a marcha, que ocorre nesta semana, e por que reunir as mulheres neste momento?
Célia Xakriabá: No momento, estamos com uma expectativa de preparar essa terra para acolher as mulheres indígenas que estão chegando de todo o Brasil. Existem mulheres indígenas que nunca estiveram em Brasília, e muitas delas poderão dizer que viajaram o Brasil pela luta. Nossa expectativa é de que as mulheres busquem muito mais do que uma única resposta: valorizem suas narrativas, suas histórias, suas memórias, para que isso sirva de alimento; para que elas voltem fortalecidas para suas aldeias, pensando em estratégias ― tanto no processo de retomada, de gestão do território; no ser professora, no ser parteira, no ser raizeira. Que isso possa servir como conhecimento de cura.
Neste momento, quais são as principais questões pertinentes ao movimento das mulheres indígenas?
Elas não são diferentes do movimento indígena nacional, mas existem algumas coisas que são específicas. O chamado da marcha, “Nosso território: nosso corpo, nosso espírito”, traz essa mensagem justamente porque não existe outra luta prioritária que não a do território. Mas não é apenas o território enquanto terra, em si. É também a garantia da vida do nosso corpo como esse lugar.
Além disso, também estamos fazendo uma frente em defesa da saúde indígena e contra essa proposta ameaçadora da municipalização da saúde; fazemos frente ao direito a ocupar o território pensando em nosso modo de vida, de viver, de fazer gestão, pensando também no nosso direito à educação.
Mas, nesse momento, nós vamos dedicar o fortalecimento da presença da mulher indígena ocupando com seus corpos os espaços institucionais: na política, como professora, como parteira ― para que as mulheres indígenas possam ampliar esse lugar de ocupação para além de sua própria aldeia.
Precisamos ocupar espaços institucionais na política, como professora, como parteira. Para que as mulheres indígenas possam ampliar esse lugar de ocupação para além de sua própria aldeia.
O que diferencia o movimento das mulheres urbanas do movimento de mulheres indígenas?
Principalmente a identidade. Porque se a mulher urbana sofre violência de gênero na sociedade… Ser mulher e indígena já é dizer que a violência é duas vezes. Ser mulher jovem, indígena, quer dizer que isso é três vezes. E quando passa por uma questão de gênero mais profunda, quando, por exemplo, pela questão LGBT isso fica quatro vezes maior. Mas isso não porque a nossa condição de identidade fica em um lugar de “ser indígena é como se já nascesse vítima da violência”, porque fica parecendo que ser indígena já nasce com uma parcela de trauma com isso, né? Isso serve para entender o quanto a sociedade é violenta e ainda desconhece a presença indígena.
A nossa identidade, essa nossa conexão com a ancestralidade, e essa nossa capacidade de multiplicar a nossa presença é o que nos faz diferentes. Duas mil mulheres indígenas parecem poucas para uma marcha, de forma geral, dentro do movimento. Mas não somos apenas duas mil. Somos mais de 10 mil. Porque nós nos multiplicamos com as nossas forças ancestrais ― dizer isso é afirmar que a minha luta fortalece a da outra e de todas que virão.
Ser mulher e indígena já é dizer que a violência é duas vezes… Isso serve para entender o quanto a sociedade é violenta e ainda desconhece a presença indígena.
A violência de gênero também é uma pauta para as mulheres indígenas?
À medida que o patriarcado se fortalece, nossos corpos também estão submetidos a essa violência. Nós, mulheres indígenas, também sofremos violência como outras companheiras, mas ao mesmo tempo é preciso que isso seja tratado de forma diferente; existe uma grande complexidade cultural. Nós temos feito uma discussão em torno de que nenhuma forma de violência pode ser justificada como algo cultural do povo. Mas é preciso compreender que existem sociedades indígenas que são matriarcais e outras que são patriarcais ― e que, mesmo nessas sociedades, elas [mulheres] têm importância.
Como se dá essa discussão sobre o papel da mulher na sociedade indígena atualmente? Os homens participam desse diálogo?
Sim, porque eles são convidados e vêm acompanhando algumas lideranças, inclusive estão dando suporte tanto na organização do fórum, quanto da marcha. E, de certa forma, na luta “mais geral” ainda são as mulheres que acabam tendo menos visibilidade de decisões. E, nesse momento, os homens propuseram a ajudar não só na logística, mas também para garantir esses quatro dias de mobilização. Muitos colaboraram na vinda das mulheres indígenas, apoiaram, então, assim, é um caminho; é um processo de repensar o lugar da mulher indígena tanto no território quanto na sociedade.
Nenhuma forma de violência pode ser justificada como algo cultural do povo.
Você se considera feminista? Como essa discussão acontece dentro do movimento de mulheres indígenas?
Eu vejo que… Quando uma pessoa se reafirma como feminista em um contexto mais urbano da luta social em geral, quando ela fala “feminista” ela pode se definir como feminista sozinha. Mas nós, indígenas, quando eu digo “feminista”, eu, enquanto Célia Xakriabá, não me consideraria feminista sozinha. Por isso que é difícil. Em nenhum momento eu me reafirmei nesse lugar do conceito. O que eu digo é que nós, mulheres indígenas, lutamos pelo direito territorial, pela igualdade. Porque, para mim, não existe direito de igualdade se não existe a garantia do nosso vínculo com a terra. Então, é uma discussão complexa ainda.
Mas não existem posturas e pautas que são das mulheres indígenas que se aproximam de uma postura feminista?
Quando as pessoas falam assim “ah, mas tantas coisas [por] que vocês lutam estão alinhadas com essa potência do movimento feminista”, eu digo que a nossa luta é antes do conceito e vai ser pós-conceito. Então, mesmo nós, mulheres indígenas, precisamos discutir isso e entender outros jeitos de chamar essa luta, principalmente, dialogando com mulheres que estão no território. Porque, na maioria das vezes, as mulheres mais velhas, elas nem conhecem esse conceito e, para elas se definirem nesse lugar, precisa ter profundidade.
Existem algumas mulheres indígenas, principalmente as que estão nas universidades, que se reafirmam nesse lugar, como feministas. Mas, enquanto mulher que está nesse coletivo, dizer que nós nos definimos em um conceito, eu ecoo a voz da outra e posso dizer que não existe um único jeito de chamar. Existem vários outros jeitos de se unir na luta.
Mulheres indígenas se unem à Marcha das Margarinas
Na quarta-feira (14), duas forças de mobilização se encontram: a Marcha das Mulheres Indígenas se junta à Marcha das Margaridas, realizada desde 2000 pelas mulheres do campo — quilombolas, ribeirinhas, trabalhadoras rurais e que combatem a mineração e seus efeitos. São esperadas 100 mil mulheres.
Esta será a sexta vez em que as “margaridas” marcham – e a primeira vez ao lado das indígenas. Neste ano, o tema escolhido pela organização foi “Margaridas na luta por um Brasil com soberania popular, democracia, justiça, igualdade e livre de violência”.
A marcha é uma homenagem à sindicalista Maria Margarida Alves, assassinada em 12 de agosto de 1983, a mando de latifundiários de Alagoa Grande, na Paraíba. Na época, ela presidia o Sindicato dos Trabalhadores Rurais.
Você é a primeira Xakriabá a concluir um mestrado e, também, a primeira indígena a cursar um doutorado da UFMG. Recentemente, tivemos outras duas mulheres indígenas com visibilidade: Sônia Guajajara, como candidata a vice-presidência da República pelo Psol e a eleição de Joênia Wapichana, 1ª mulher indígena a ocupar o cargo de deputada federal pela Rede. Este é um momento de grande protagonismo para as mulheres indígenas?
Eu digo que o povo fala que o século 21 é de tantas outras coisas… Mas eu digo que ele é também das mulheres. E é das mulheres indígenas. Toda vez que se fala nesse pioneirismo, tanto agora da Joênia Wapichana chegando como a primeira mulher indígena no Congresso Nacional, quanto Sônia Guajajara nessa candidatura a copresidência…
Mas existem outros protagonismos ― é preciso falar da participação das mulheres indígenas na Constituinte; sobre a primeira a ser eleita prefeita no Nordeste; sobre a primeira a ser professora; sobre as primeiras a ocupar as universidades; sobre as que entraram primeiro no processo de retomada territorial. Hoje nós temos responsabilidade de questionar por que só agora estão chegando essas “primeiras” em outros lugares. E a responsabilidade de deixar que elas não sejam as últimas.
Me perguntam muito sobre como apoiar a luta indígena: “ah, como eu faço? Eu queria pagar essa dívida histórica etc”. Eu escuto muito isso. E nas universidades, principalmente, eu tenho feito a seguinte provocação: quantos professores indígenas você tem? Quantas mulheres indígenas estão ao seu lado nesse ambiente? Dificilmente existe essa presença, foi há pouco tempo que isso aconteceu e, então, começa-se a perceber que existe essa ausência.
As pessoas precisam questionar a sociedade também dizendo: quantas delas votaram em candidaturas indígenas? E é nessa provocação também que a primeira Marcha das Mulheres indígenas se coloca. Perguntando também para outros companheiros e companheiras: quantos de vocês estariam disponíveis a votar em uma mulher indígena?
Você avalia que há resistência dentro do próprio movimento indígena em olhar pra essas questões?
Eu nem fiz essa avaliação porque todas as vezes que nós falamos ausência ou da presença indígena as pessoas já jogam essa culpa para nós. Sendo que, na verdade, eu acho que existe uma dívida histórica da própria sociedade. A forma de concorrer é diferente, é desigual. Quando nós escolhemos uma liderança, não estamos eliminando outras. Nossa candidatura não se faz exatamente com campanha e com dinheiro na política, ela se faz com trajetória de luta ― e isso demora muito mais do que quatro anos.
Ao final do fórum, vocês se juntam à Marcha das Margaridas…
Sim. O motivo de marchar juntas é porque a gente sabe que o inimigo é o mesmo; a luta precisa ser conjunta porque, caso contrário, vamos ser soterradas por esse inimigo, que é muito bem orquestrado. Tanto que hoje, quando a gente pensa… O mesmo fazendeiro que mata os povos indígenas em Minas Gerais é o mesmo dono de fazenda no Mato Grosso do Sul. A gente percebe as artimanhas do poder e que a gente precisa estar mais conectadas do que nunca; porque eles podem ter o poder da caneta, mas não sabem fazer uma luta nas ruas e nem em retomadas de terra como nós sabemos.
1ª Marcha das Mulheres Indígenas e Marcha das Margaridas
Fórum Nacional das Mulheres Indígenas
Data: Até 12 de agosto
Local: Funarte
1ª Marcha das Mulheres Indígenas + Marcha das Margaridas
Data: 13 e 14 de agosto